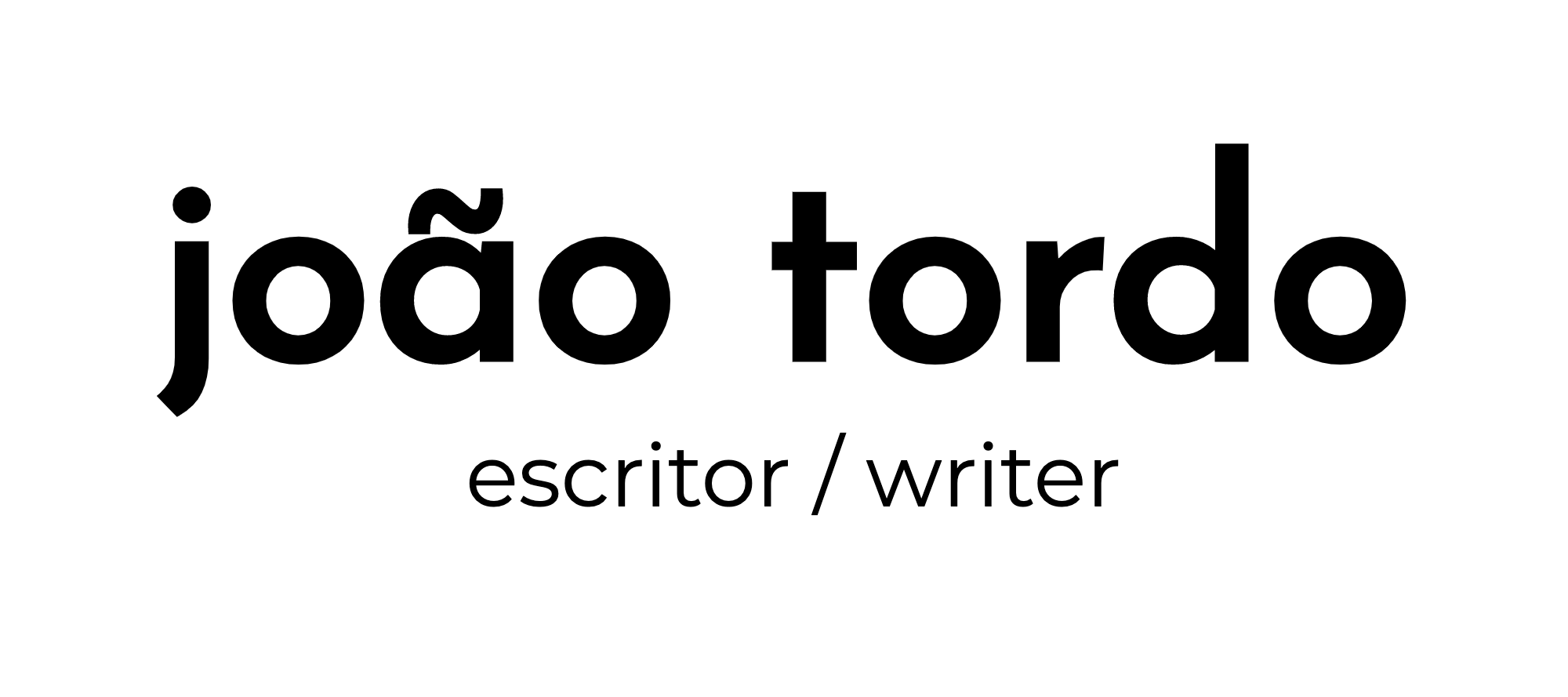João Céu e Silva
23 Dezembro 2019
João Tordo surpreende com um 'thriller'.
João Tordo trata o crime por tu no seu novo livro, A Noite em que o Verão Acabou. Ninguém estava à espera desta reviravolta numa carreira premiada por registos que pouco têm que ver com o policial, designadamente com o Prémio José Saramago, em 2009, mas o resultado surpreende. Afinal, poucos autores portugueses têm unhas para o thriller e Tordo sai vencedor da experiência.
Pode dizer-se que, no caso de João Tordo, esta mudança de registo é um crime que compensa e que também deixa o leitor seduzido por uma narrativa que não imita os thrillers tradicionais, antes cozinha a sua grande capacidade de descrição de cenários e de personagens com um mistério que empurra o leitor até ao fim das 667 páginas. Em entrevista ao DN, o escritor considera que A Noite em que o Verão Acabou tem o género literário do thriller bem explícito, mesmo que a sua intenção seja a dos grandes romances, contar uma história.
O que o fez mudar o registo?
Talvez a denominação tenha surgido mais para "diferenciar" este livro do que propriamente por ser um thriller puro e duro. Segue algumas regras do género, é verdade, mas é uma história de amor e de perda, cujo cenário é um homicídio numa pequena vila americana. A mudança de registo foi natural, apetecia-me escrever um livro que me pusesse "colado" às páginas a tentar adivinhar o próximo passo, e que deixasse os leitores pendurados da primeira à última página. Pelas reações que tenho tido, parece que consegui. Mas, claro, tem muitas características do romance "literário": o protagonista, no começo, é um jovem de 13 anos que passa férias com os pais numa pacata aldeia algarvia e acaba apaixonado por Laura, uma rapariga americana que, depois do verão, regressa aos Estados Unidos. Dez anos passados, com a ambição de ser escritor, vai estudar para Nova Iorque com o seu ídolo, o escritor Gary List - que ambiciona ter como mentor - e vê-se envolvido num crime hediondo, em que o pai de Laura é assassinado pela irmã mais nova... aparentemente. Tudo isto contado em três tempos diferentes e durante um período de 30 anos. Daí as 680 páginas...
É para ter seguimento?
Julgo que sim. Diverti-me muito a escrever este livro e, por vezes, é isso que procuro: divertir-me no trabalho, ter prazer em montar o puzzle que se vai construindo na minha cabeça. Revisitar temas que me são caros: a juventude, a transição difícil para a idade adulta, mas de uma maneira lúdica, que seja apelativa aos sentidos. Sempre li muitos policiais, e as minhas influências vêm tanto do romance literário como do romance de aventuras e do policial. De Conan Doyle a Júlio Verne ou a Dostoiévski e Phillip Roth, todos me interessam. Por isso, creio que irei escrever outros thrillers.
Ficou cansado do seu anterior registo ou esta era uma veia que queria explorar há algum tempo?
Era uma veia que queria explorar. Não estou nada cansado do registo mais normal, até porque, depois deste, já terminei outro romance literário que sairá no próximo ano. Mas é bom refrescar a cabeça, fazer coisas novas. Houve um tempo em que tinha receio de me aventurar, de que me "cunhassem" de certa maneira. Com o passar dos anos, a maturidade e a experiência trouxeram-me a segurança de que consigo fazer (quase) de tudo: do romance literário ao thriller e também o ensaio, que começarei a publicar em 2020. Não ter complexos e saber ouvir a nossa intuição é fundamental para evoluir como escritor.
Pode dizer-se que já em Três Vidas piscava o olho a uma escrita próxima?
De certa maneira, sim. A minha tradição é a narrativa. Dostoiévski era profundamente narrativo, Melville também. E Tolstoi, e Flaubert, e Cervantes. E Saramago, sim: Saramago era um mestre da narrativa e da linguagem. Nesses primeiros romances, eu estava a aprender o meu ofício, que passa, em primeiro lugar, por aprender a narrativa - como se conta o quê, durante quanto tempo, até onde. Onde começar, para onde levar a história, tensão, pausa, respiração, recomeço, etc. Sem isto, não se sabe escrever ficção. O trabalho de linguagem é concomitante. Em As Três Vidas comecei a ensaiar este diálogo entre a linguagem, a voz, a narrativa e o diálogo com o leitor. Portanto, acho que, a certa altura, era natural entrar neste registo. Sem esse livro, não haveria A Noite em que o Verão Acabou.
Os leitores portugueses não têm muitos autores nacionais a escrever neste registo. Porque será?
Porque a certa altura desviámo-nos de uma tradição narrativa e entrámos noutro momento, necessário, da literatura em Portugal. Só que, como somos poucos e só se aprende um ofício praticando-o intensamente e fracassando intensamente, talvez tivesse sido mais fácil, a certa altura, deixar de lado essa ideia mais tradicional do "contar" em benefício de outras virtudes. Isto notou-se no cinema, na literatura, no teatro. Não tem qualquer problema, é como é. A única dificuldade que criou foi termos formado gerações de escritores mais voltados para o trabalho da linguagem (absolutamente necessário) mas que, quase por imposição do "cânone", não trabalharam tanto o outro lado. Para se escrever um bom policial ou um thriller ou um livro que absorva o leitor e, ainda assim, seja "literatura", é preciso trabalhar os dois lados arduamente. E isso é extremamente difícil. Repito: extremamente difícil! O equilíbrio entre linguagem, forma e estrutura é o mais precário que existe em ficção. Não basta escrever bem. Um policial ou um thriller não vivem só disso. Vivem, também, e muito, do trabalho de personagens, de estrutura, do saber contar da forma certa. E este trabalho esteve algo ausente do nosso "cânone", até recentemente.
Uma das personagens - a avó - diz, logo no início: "'Achas que vais ser escritor?' Dei meia-volta na cadeira e encarei-a, sem paciência. 'Vais ser é um grande desempregado, como o teu avô.'" É autobiográfico ou a sina dos autores portugueses?
Acho que é universal. Querer escrever pode ser entendido como uma "pretensão" ou uma vaidade. Sobretudo num século em que as artes passaram para o domínio do "inútil" - daquilo que não se sabe bem para que serve, ao contrário do que foram noutros séculos, sobretudo antes da revolução industrial -, um pretendente a escritor é sempre uma criatura volátil, arrojada, em perigo. Aqui ou na China. Como o narrador do livro é um pretendente a escritor, quis colocar-lhe esse ónus à partida: a "Cassandra" que lhe prenuncia a derrota. Mas, depois, o livro - escrito pelo Pedro, o narrador - é a sua espécie de vitória de uma "profissão" que não existe (a de escritor) da qual nunca se sai vitorioso.
A mesma avó quer saber o que o neto escrevia: "Afinal, o que é isso que tu tanto escreves?" O personagem tapa "as páginas com as duas mãos". Como é consigo, aceita que vão espreitando o que escreve ou é um segredo bem guardado?
Não! Guardo tudo em segredo até ter uma segunda versão do livro. Só então o entrego à minha editora, a Clara, mas até lá não mostro nada a ninguém. Os meus livros precisam de várias reescritas, camadas por cima de camadas.
Neste livro sente-se muito a presença da literatura norte-americana. É uma influência?
Eu diria da literatura anglo-saxónica. Poe, Conan Doyle, Agatha Christie, Graham Greene, Lehane, Hammett, foram todos influências. Mas também Melville, Salinger, Flannery O'Connor, etc. Era nos autores anglo-saxónicos - antes do aparecimento da nova literatura escandinava - que se encontravam as melhores narrativas, e eu sempre me senti atraído por uma certa literatura que nos mantém colados às páginas.
A referência ao Grande Romance Americano é normal. Poderemos - ou quando - falar do Grande Romance Português?
Não sei o que é o Grande Romance Americano, nunca percebi a expressão. É o Gatsby, com o fim do século das luzes? Ou o Moby Dick, com a perda da inocência? Ou o Catcher in the Rye, com a juventude rebelde e incompreendida? Acho a expressão esquisita. O Grande Romance Português também não sei o que será, mas consigo pensar nuns quantos que ilustram o nosso "modo de ser": Os Maias, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Mau Tempo no Canal, Sinais de Fogo...
Dashiell Hammett quando não sabia como prosseguir a história abria uma porta e matava alguém. No seu caso, é logo à primeira página. Truque ou um bom pontapé de partida?
É uma maneira de obedecer a algumas "regras" do policial e do thriller. Também nos coloca imediatamente no lugar da ação. Anunciar a vítima na primeira página é o artifício mais velho da ficção. Quis experimentar.
Na página 426, escreve: "Acabei de destruir o manuscrito." Alguma vez o fez?
Nunca destruí um livro, mas tenho vários na gaveta que morrem de esquecimento. Nunca os publicarei. São experiências, coisas malformadas que nunca verão a luz do dia. Alguns porque não os terminei, outros porque os terminei mas não devia ter perdido o meu tempo. Ou não; talvez essas sejam as grandes experiências para um escritor, as que não funcionam. São a nossa aprendizagem.
Um livro dentro de um livro não é uma fórmula nova. É meio caminho para ser um sucesso?
Não faço ideia. Acho que foi a forma de narrar que encontrei para o Pedro Taborda, que precisa de contar esta história - a da sua juventude, a das irmãs Walsh, daquele verão em Chatlam, do homicídio, de tudo o que atormentou desde 1987 - e, portanto, precisei do livro dentro do livro. Para além disso, a história é toda verdadeira! [risos]
Quem leu diz que não consegue parar. É uma simpatia dos leitores ou foi feito para ser mesmo assim?
Não. Foi feito para que eu não conseguisse parar de o escrever. O resto acaba por vir por osmose, parece-me. Mas fico grato aos leitores se assim o sentirem.
Fisicamente, o livro faz lembrar A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, do Joel Dicker. Foi intencional?
Não, mas a verdade é que quem gostou de A Verdade sobre o Caso Harry Quebert provavelmente gostará deste. Há algumas semelhanças, embora o meu livro seja muito distinto no tom e no binómio Portugal-EUA. Quanto às semelhanças físicas, julgo que o meu livro é ainda maior...